As melhores leituras de 2024
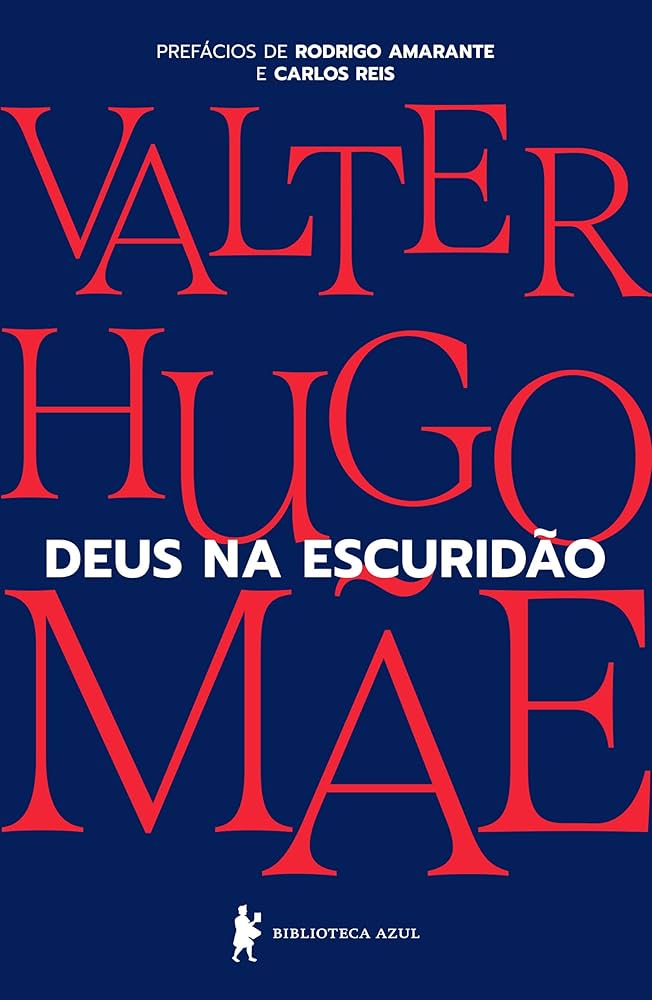
INDICAÇÃO DE AMANDA GORZIZA
Ao ler Deus na escuridão, do escritor português Valter Hugo Mãe, não pude deixar de pensar no meu irmão mais novo. O livro reverencia o amor fraternal ao contar a história de duas crianças que moram junto de seus pais na Ilha da Madeira, em Portugal. Logo nas primeiras páginas o leitor se depara com a euforia do narrador, o irmão mais velho que, já no fim da infância,, descobre que terá um irmão. Mas, no caso do narrador de Hugo Mãe, há um detalhe fundamental: o caçula nasceu com a saúde frágil e “sem as origens”, sem os órgãos genitais, o que o torna alvo dos olhos curiosos dos habitantes da ilha.
A família vive imersa numa comunidade religiosa e pobre marcada pela violência de classe. Em meio ao falatório sobre a condição física do menino e às dificuldades da labuta diária, a narrativa acaba por evidenciar o amor fraternal, traduzido pelos atos de cuidado e proteção com o caçula. Hugo Mãe reflete sobre o espelhamento entre irmãos, e nos provoca a considerar se podem amar um ao outro como as mães amam os filhos. Tudo isso embalado pela poética encantadora do autor, que potencializa a identificação com o livro dos leitores que têm irmãos. Quem me avistasse no metrô a caminho do trabalho com este romance pensaria até que estava apaixonada, pois me peguei em diversos momentos sorrindo durante a leitura.
Ao mergulhar num personagem católico, que faz uso da linguagem religiosa enquanto narrador, esta pode ser considerada a obra mais espiritual do autor português. Ao mesmo tempo que o irmão caçula é considerado estranho pelos outros, também é como se fosse um santo. A repercussão da malformação do menino e a aceitação do que é fora do comum em grupos religiosos são pontos cruciais da narrativa. Mas, para além do sagrado, Hugo Mãe também se aprofunda em questões seculares, como o trabalho infantil e a falta de direitos básicos na região. O olhar delicado e ingênuo do narrador de Hugo Mãe nos entrega uma das mais bonitas obras já feitas sobre relações fraternais.
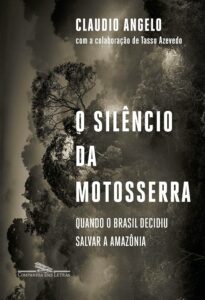
INDICAÇÃO DE BERNARDO ESTEVES
Um lançamento essencial para quem se preocupa com o futuro do planeta é O silêncio da motosserra – quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia, que conta a história de como o Brasil vem combatendo o desmatamento. Foi escrito pelo jornalista Claudio Angelo com a colaboração do engenheiro florestal Tasso Azevedo, dupla que conhece a história de perto: Angelo é autor de A espiral da morte: como a humanidade alterou a máquina do clima (Companhia das Letras), de 2016, talvez o melhor livro em português sobre a emergência climática. E Azevedo foi uma peça importante da equipe que conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em 83% entre 2004 e 2012.
O silêncio da motosserra conta como se deu a elaboração e a execução desse plano. Antes disso, os autores descrevem como o Brasil se relacionou com a floresta desde a ocupação predatória incentivada pelo regime militar. Mostram como o ambientalismo brasileiro se fortaleceu em 1988, quando o assassinato de Chico Mendes abriu os olhos do mundo para a Amazônia, e o direito ao meio ambiente equilibrado foi inscrito na Constituição. Quatro anos depois, o Brasil recebeu a Rio-1992, a conferência das Nações Unidas que pela primeira vez reconheceu a existência da crise climática e se comprometeu a combatê-la.
As políticas que ajudaram a manter a floresta de pé atingiram um teto em 2012, quando foi registrada a menor taxa anual de desmatamento da Amazônia. Naquele ano foi aprovado o novo Código Florestal, que levou à fragilização da proteção das florestas. Angelo e Azevedo mostram como a batalha traumática entre ruralistas e ambientalistas marcou a entrada da Amazônia no repertório das guerras culturais que dividem a sociedade brasileira. A influência do ruralismo se consolidou em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro, que estimulou o crime ambiental e viu a taxa de desmatamento crescer quase 60% em seu mandato.
Quando voltou ao Palácio do Planalto em 2023 para um terceiro mandato, Lula trouxe de volta à sua equipe Marina Silva, a ministra por trás da primeira grande redução do desmatamento. O novo plano de sua equipe já levou a uma queda de 46% na taxa de desmatamento herdada do governo Bolsonaro. Mas o esforço pode ser comprometido por dois projetos apoiados por Lula: a exploração de petróleo na foz do R io Amazonas, que abriria novas frentes de exploração dos combustíveis fósseis; e o asfaltamento da BR-319, entre Manaus e Porto Velho, que estimularia a ocupação de um grande trecho de floresta preservada. Essas escolhas serão determinantes para o sucesso da meta que Lula anunciou de zerar o desmatamento até 2030.
O silêncio da motosserra é construído a partir de uma investigação robusta que incluiu reportagem de campo e centenas de entrevistas com personagens que vão de políticos, cientistas e ambientalistas à atriz Lucélia Santos e ao roqueiro Sting. Os protagonistas são caracterizados de forma minuciosa, e a narrativa é recheada de detalhes saborosos. Ao sistematizar a história do combate ao desmatamento, o livro contribui para a discussão essencial sobre o lugar que a Amazônia deveria ocupar no Brasil que queremos.
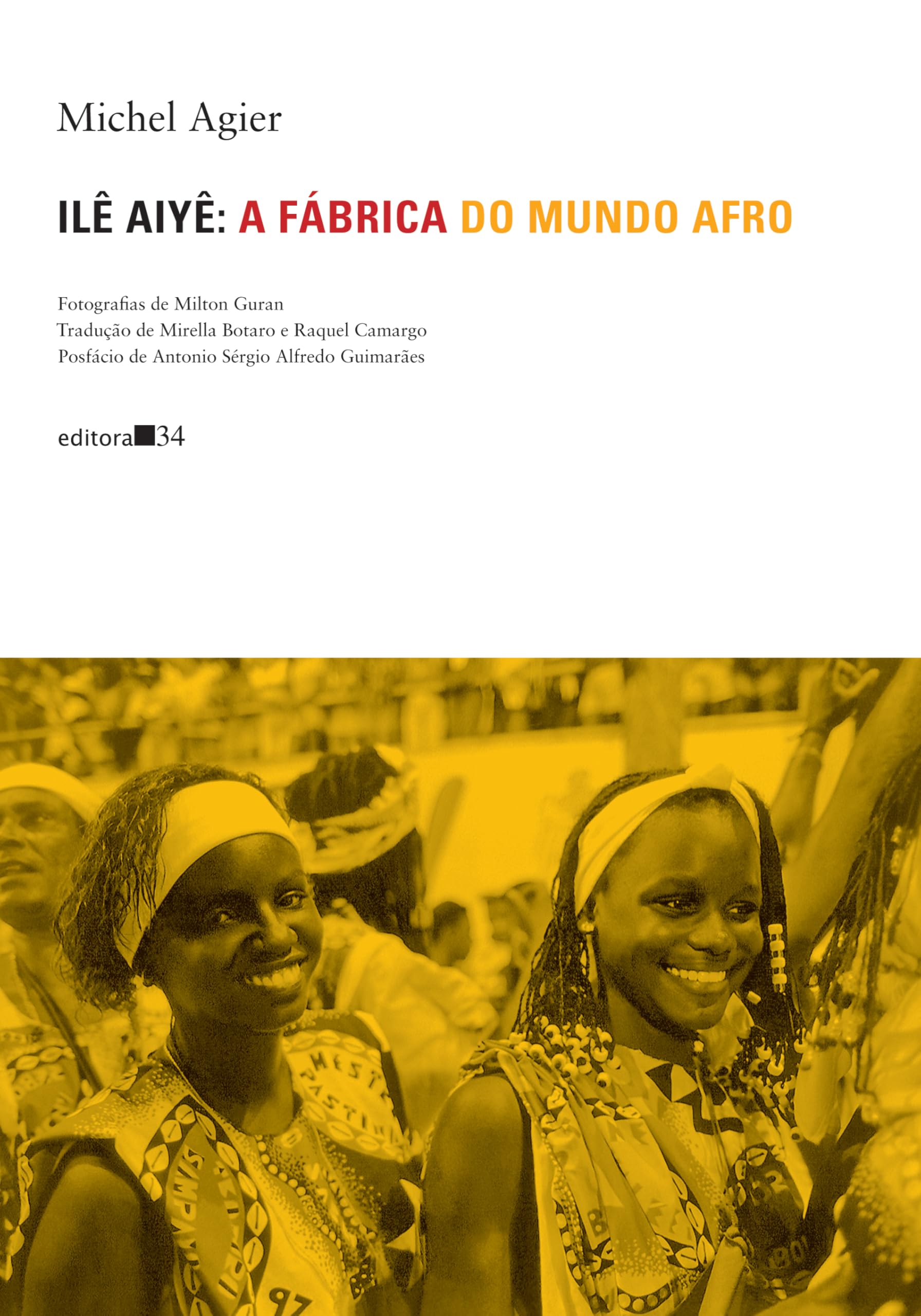
INDICAÇÃO DE EMILY ALMEIDA
Desde 1975, um evento especial acontece em Salvador, na Bahia, na noite do sábado de C arnaval. Imprensa, militantes do movimento negro, intelectuais e artistas se preparam para acompanhar a saída do bloco Ilê Aiyê, visto como o mais africano e o mais puro de todos os blocos afro que saem nos dias de festa.
No universo das narrativas acadêmicas que cruzam história, cultura e identidade, Ilê Aiyê: a fábrica do mundo afro, de Michel Agier, é uma das leituras mais instigantes de 2024. Publicado no ano que marca o cinquentenário do Ilê Aiyê, o livro é um mergulho profundo nas raízes de um bloco que não permite a presença de pessoas brancas em seu corpo, e que é questionado por essa escolha.
O autor não é brasileiro, e tampouco é negro. Agier é um antropólogo francês, especialista em estudos africanos e pesquisador da École des Hautes Études en Sciences Sociales. Conheceu a história do bloco em 1990, morou por sete anos em Salvador e dedicou anos de sua vida a estudar o Ilê, tendo um acesso importante aos fundadores e membros do grupo, o que dá base para todo o livro. Nele, Agier mostra como o movimento transcendeu o Carnaval e foi essencial para redefinir certos imaginários sobre a negritude no Brasil.
Ao antever o questionamento de sua condição racial diante de seu tema de pesquisa, o autor a aborda brevemente durante o livro e explica que nunca pretendeu contestar o princípio segundo o qual os brancos não podiam desfilar no Ilê Aiyê. “Acredito que a ‘ausência de mistura’ racial no ritual é a condição de existência do Ilê Aiyê, e a própria existência da polêmica a esse respeito na Bahia confirma sua eficácia.”
Ao voltar ao momento fundacional do movimento, em novembro de 1974, com o panfleto provocador e a declaração de que “Nós somos os africanos na Bahia”, Agier investiga como o bloco reconfigurou determinadas discussões de cultura e de raça. A frase, que coloca os integrantes do Ilê como africanos no Brasil, é o fio condutor de uma narrativa que questiona sentidos de pertencimento e de reinvenção.
Um dos grandes méritos do livro está na capacidade de conectar o local ao global. Agier não se limita a situar o Ilê Aiyê no contexto histórico-cultural da Bahia e do Brasil, mas traça também paralelos com as culturas diaspóricas ao redor do mundo e mostra como a experiência afro-brasileira dialoga com movimentos similares em outros continentes.
A obra conta ainda com 35 fotografias de Milton Guran, que a tornam, também, um relevante documento visual. É um livro essencial para quem deseja entender o que significa celebrar a África na Bahia.
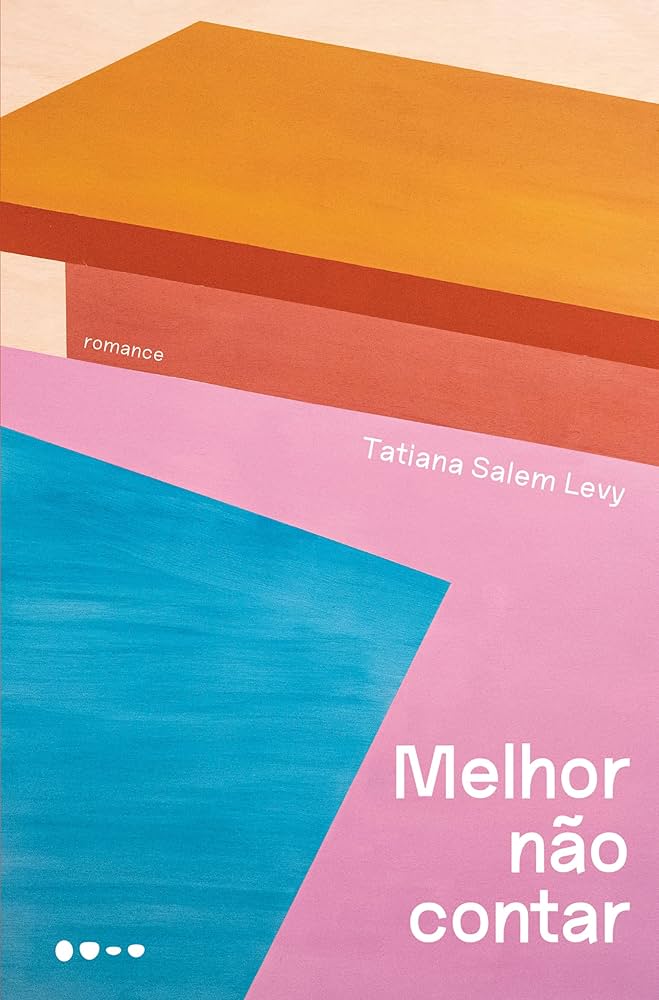
INDICAÇÃO DE JOÃO BATISTA JR.
No livro Ainda Estou Aqui, do escritor Marcelo Rubens Paiva, há uma analogia sobre a memória e o tempo. As marcas de nossa vida armazenadas em nosso HD interno, o cérebro, não são talhadas em pedras e, portanto, imutáveis. Elas vão e vê m, esculpidas como as areias das dunas, com lembranças que passam a ter um peso ou ganhar novos sentidos e contornos à medida que amadurecemos. A analogia serve bem à história de Melhor não contar, da escritora e jornalista Tatiana Salem Levy. É talvez a obra mais pessoal e visceral de Levy – e a sua história dialoga com a de muitas mulheres.
Quando tinha 10 anos de idade e tomava sol sem a parte de cima do biquíni, a criança – futura narradora do livro e alter ego da autora – percebeu que seu padrasto, muitos anos mais velho, rabiscava um desenho de seus seios eretos e empinados. A agressão entrou em sua cabeça. Conto ou não conto para a minha mãe? Na infância, muitas vezes, uma criança assediada não sabe nominar o que se passou. Mas os assédios e os comentários por parte do padrasto se seguiram na adolescência. Não havia zona cinzenta. Aquilo já tinha nome e os efeitos na vida de Tatiana seriam eternos. A mãe de Tatiana, a jornalista Heloísa Salem, faleceu de câncer quando a filha tinha 20 anos. A própria mãe tinha sido vítima de um estupro por outro homem, passagem relatada no livro.
Tatiana fez uma investigação pessoal, buscando e relendo diários, juntando as peças do que se passou. As mulheres, desde a infância até o último suspiro, são incentivadas e premiadas por ficarem em silêncio. A elas há sempre a recomendação expressa: melhor não falar. “Por que remexer o passado?”, pergunta-se, como se o passado ficasse no passado. Outra forma de coibir relatos é afirmar que quem conta a história se expõe demais, como se o silêncio fosse uma cápsula protetora. Tatiana aborda no livro uma conversa com um namorado sobre a intenção de escrever essa autoficção, e, mais uma vez, é aconselhada a deixar a história de lado. Em um ato de coragem, relata sobre o aborto feito aos 44 anos, em Portugal, país onde vive e onde a prática é legalizada.
O momento mais marcante do livro se dá quando Tatiana rememora, dentro dessa sua busca para entender o que se passou, o encontro com o padrasto num café em Paris. Ao remexerem nos episódios de assédio, o padrasto não nega suas atitudes, e acaba tentando justificar o injustificável dizendo ter se apaixonado na época pela enteada décadas mais jovem. Tatiana não cita o nome dele no livro, mas o cineasta com quem sua mãe se relacionou na época foi Nelson Pereira dos Santos, um dos fundadores do Cinema Novo, falecido em 2018.
Ao contar algo tão íntimo com tamanha delicadeza e profundidade, Tatiana joga luz no fato de que eles, os abutres, estão por todas as partes – dentro de casa, por exemplo, defendendo valores como a democracia e a cultura. Na ocasião do lançamento de Melhor não contar, a autora disse não ter escrito o livro para condenar ninguém. Nem para perdoar.
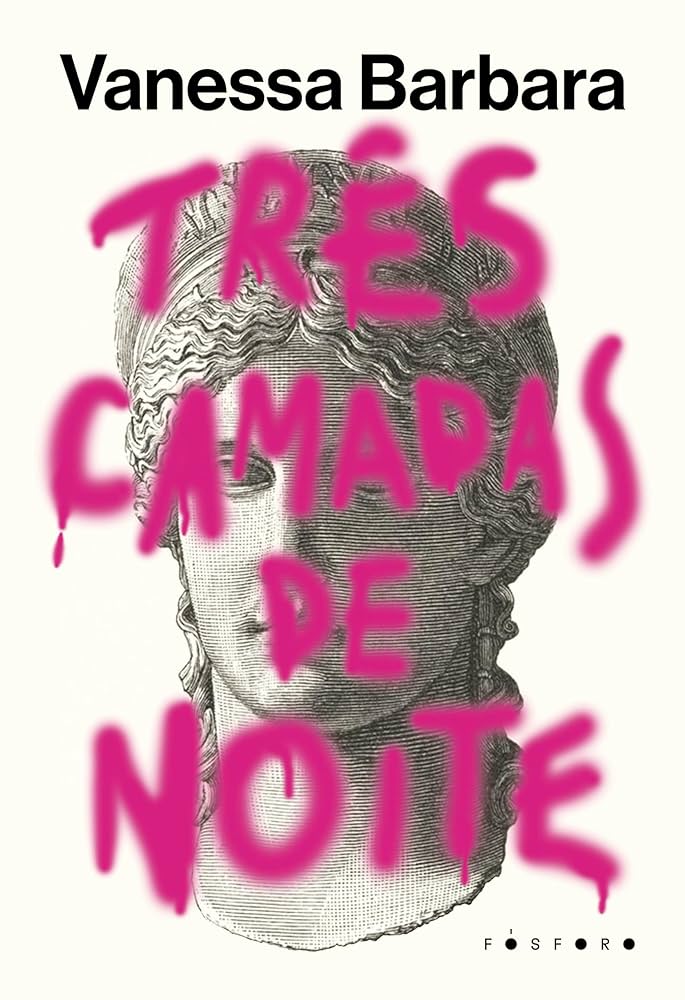
INDICAÇÃO DE MARCELLA RAMOS
Três camadas de noite, o romance mais recente de Vanessa Barbara, é uma meditação tocante e bem-humorada sobre maternidade, depressão e sobrevivência. A história é narrada do ponto de vista de uma mãe de primeira viagem que, entre criar uma criança e tentar produzir literatura, enfrenta uma depressão severa. Assim como a criança, ela não sabe bem como existir. E é nesse contexto que busca, na história de outros escritores, uma espécie de guia de sobrevivência. Os relatos domésticos dessa narradora se intercalam, então, com fatos sobre a vida de Sylvia Plath, Clarice Lispector, Henry e Alice James, e Franz Kafka.
O livro é um romance autobiográfico: Vanessa Barbara também teve um bebê pouco antes da pandemia, convive com a depressão e enfrenta distúrbios do sono. Em 2019, a piauí publicou seu relato sobre a odisseia que foi ter um parto normal no Brasil (https://piaui.folha.uol.com.br/materia/de-cocoras-no-pais-da-cesarea/). Em janeiro de 2024, alguns meses antes do lançamento do livro, Vanessa escreveu no New York Times o texto Como contar histórias para minha filha me ajudou nos tempos mais difíceis, no qual relata como os mitos gregos foram um refúgio durante a pandemia e o governo Bolsonaro. A mitologia grega é também o ponto de partida do livro: o título vem da Teogonia de Hesíodo. A personagem principal é especialista no tema, e ao longo dos capítulos ela conta diferentes mitos: Damão e Pítias, o nascimento de Atena, as amazonas, entre outros. O filho se chama Heitor, numa referência clara ao verdadeiro herói da Ilíada.
Jornalista de formação, Vanessa Barbara demonstra suas qualidades de repórter na pesquisa meticulosa das biografias dos autores que aborda. O foco era explorar as estratégias que eles utilizavam para lidar com a depressão: Sylvia Plath precisava trabalhar, Clarice Lispector buscava o calor do Brasil, Henry James precisava viajar, e Kafka recorria ao exercício físico. É interessante notar os pontos em comum entre eles e como cada um definia a depressão: “‘Uma coisa orgânica, existente e viva’ (Plath), ‘uma natureza difícil e sombria’ (Lispector), ‘os demônios negros do nervosismo’ (James), ‘o corvo secreto’ (Kafka).”
Ao longo do livro, mãe e filho aprendem sobre a vida e sobre si. A narradora começa a entender melhor suas estratégias para sair da caverna da depressão, como dormir muito para melhorar o humor e sapatear. Ela encontra uma definição para o que vive: “Um tipo de clima: às vezes chovia, às vezes fazia sol. E eu era naturalmente friorenta.” Já o filho, Heitor, vai entendendo as especificidades do transtorno da mãe como quem apreende a linguagem e a escrita: quando ele aprendeu a falar, ele perguntava “por que a mamãe chora o tempo todo?”; mais para o final do livro ele percebe a mudança de humor já no olhar. “Pelo visto, Heitor havia sido calibrado desde o berço para detectar faíscas de angústia materna em questão de milissegundos. Isso, é claro, me deixou triste. Mas também podia ser encarado como uma rara habilidade psíquica a ser futuramente aprimorada pela CIA em seus treinamentos com armas psicotrônicas”, a narradora conta.
O livro transcende a temática da maternidade, uma vez que aborda aspectos tão comuns da natureza humana de forma acessível. O que se tem ali é uma investigação sobre como existir. Não é preciso ser mãe para gostar de Três camadas de noite (eu não sou nem mãe de pet). Vanessa Barbara tem um senso de humor apaixonante e uma forma de ver o mundo tão original que a coloca entre as melhores prosadoras de sua geração. Suas tiradas engraçadas evocam um Sísifo alegre em meio à dureza que é atravessar a vida quando tantas coisas jogam contra a gente.
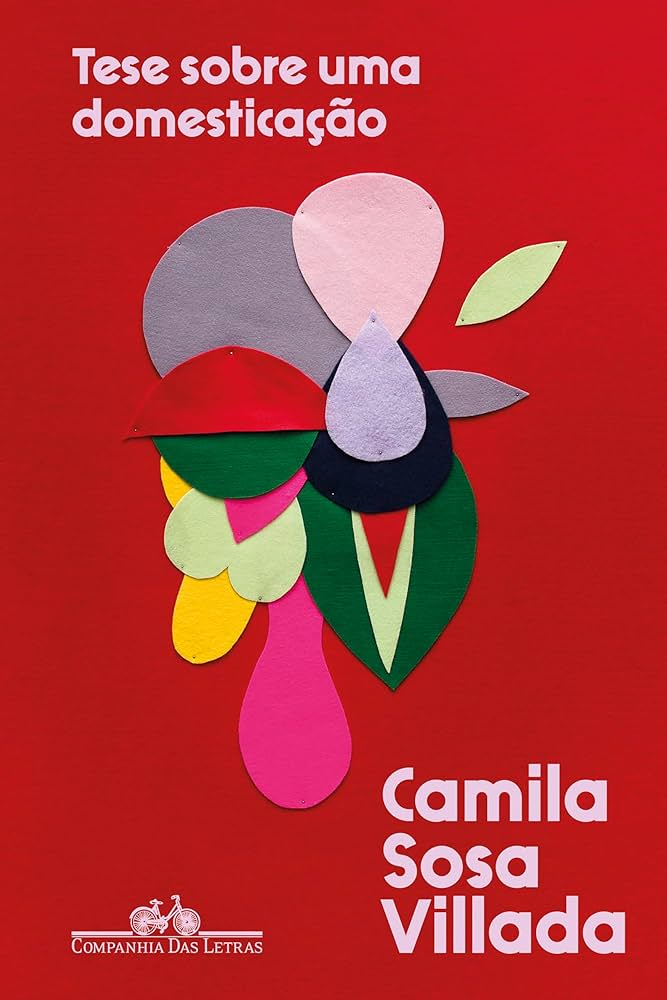
INDICAÇÃO DE THALLYS BRAGA
Na Argentina, uma travesti se tornar mãe adotiva não é um acontecimento tão raro. Em meio a sucessivas crises econômicas, crianças ficam órfãs todos os dias, e em muitos casos são as travestis que assumem os cuidados desses pequenos desamparados. Há muito tempo, as travestis desempenham um papel que ninguém gostaria de assumir: o do afeto sem nome. Elas se prostituem a fim de sustentar os irmãos mais novos, mandar dinheiro para casa, presentear os sobrinhos e os filhos das amigas. À luz do dia, são filhas de ninguém, tias de ninguém, sobrinhas de ninguém, amadas por ninguém.
Mas essa travesti, a mais rica e famosa da Argentina, não é como as outras. A atriz – como Camila Sosa Villada chama a personagem principal de Tese sobre uma domesticação – é casada com um advogado gay que atende as famílias mais influentes do país. Ela é fotografada ao lado de ministros, presidentes e embaixadores. Tem dinheiro de sobra para criar um filho com presentes, natação, roupas caras. Por isso, um dia ela cede ao desejo do marido e decide adotar uma criança. O menino escolhido por eles é, segundo a assistente social do orfanato, “um caso difícil”: ele nasceu com HIV. A mãe biológica transmitiu o vírus para ele e se suicidou.
Depois de adotar o menino, a atriz leva a vida que os pais sempre sonharam para ela. Somente um marido e um filho poderiam domar uma travesti tão bárbara como aquela. Contudo, ao se submeter às convenções sociais, a protagonista sufoca. Seu marido ainda transa com outros homens, enquanto ela questiona a razão de ter se casado com um gay. Em busca de vingança, ela enche sua casa com as travestis “mais ortodoxas, as de fogo, as que se forjaram na ditadura e eram muito velhas, as que foram suas mães, as que sobreviveram aos massacres e eram as únicas capazes de julgá-la.” O irmão da atriz a despreza e desrespeita o diagnóstico do seu filho, mas secretamente deseja o corpo feminino da irmã.
Os dias que passei na companhia desse livro estão entre os mais felizes do meu ano. Nada me fascina mais que personagens complexas como essa travesti, que luta em defesa do próprio desejo e também contra ele.
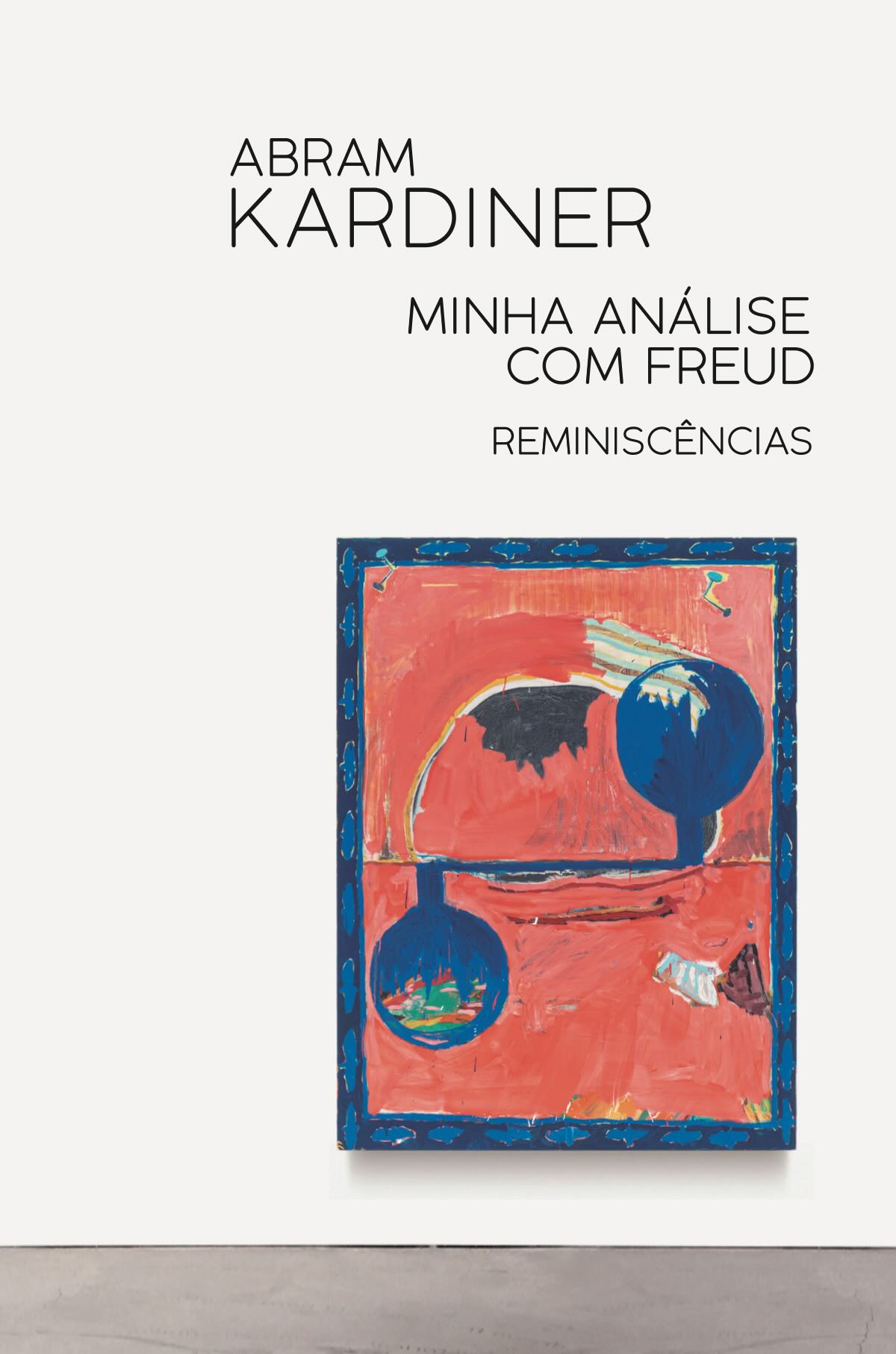
INDICAÇÃO DE TIAGO COELHO
Era junho e eu escrevia um perfil para a piauí quando recorri a alguns textos de Freud, a fim de me informar como traumas familiares de infância poderiam ter impactado a vida de meu perfilado. Tropecei na feliz leitura de Minha análise com Freud: reminiscências, de Abram Kardiner, lançado no início do ano pela editora Quina. Publicado originalmente em 1977, nos Estados Unidos, o livro chega pela primeira vez ao mercado editorial brasileiro numa tradução exímia e fluida de Nina Schipper.
Kardiner, psiquiatra e cofundador da New York Psychoanalytic & Society Institute, tece um precioso relato sobre o período em que foi paciente de Sigmund Freud por seis meses em 1921, quando a psicanálise dava seus primeiros passos. O jovem psiquiatra queria conhecer de perto a prática analítica do homem que transformou o conhecimento da mente humana no século XX. Filho de pobres imigrantes judeus da Ucrânia, Kardiner viaja para Viena e senta-se no divã de Freud. A obra apresenta com detalhes o encontro, e discorre sobre a análise freudiana, a evolução da psicanálise e como Kardiner colocou em prática o que aprendeu ao retornar para Nova York. Mas o grande encantamento da obra de Kardiner é o momento em que compartilha com os leitores o mesmo relato de seu passado que ele contou a Freud. Quando se senta no divã, ele nos oferece a experiência de nos colocarmos no lugar de Freud enquanto ouvimos sua história.
A realidade dura de uma família pobre, a culpa, as castrações e humilhações das suas primeiras memórias da infância são narradas com uma honestidade perturbadora: “No geral, minha primeira infância foi um pesadelo incessante, no qual incluem fome, negligência, uma sensação de não ter nenhum valor, e um desconcertante sentimento depressivo.” É comovente ouvi-lo sobre o impacto da morte da mãe: “Minha autoestima já havia sido aniquilada pela negligência, pela morte de minha mãe.” Sobre a figura temida do pai: “Atravessávamos uma depressão econômica, e acho que meu pai era um ser humano muito atormentado, com quatro bocas para alimentar e sem conseguir ganhar o seu sustento. Isso contribuía para sua irritabilidade.” Sobre a culpa que sentia em relação à irmã mais velha, sempre rejeitada: “Eu me tornei o favorito e, enquanto minha madrasta condescendia comigo, seu desdém para com minha irmã e os maus-tratos que lhe infligia me deixaram com sentimento de culpa que ainda carrego comigo.”
Mas o tópico mais interessante é a figura da madrasta: “Permaneci apaixonadamente ligado a ela […] Ela me tirou do caos de um ambiente devastado e desestruturado e me conduziu ao paraíso de um mundo ordenado. Ela me estimulou precocemente a uma idealização do feminino, que logo transferi para minhas professoras de escola.” É fascinante acompanhar Freud desatando os nós dos fios do inconsciente de Kardiner, e revelando intenções escondidas como numa trama detetivesca, em que cada elemento do passado é uma pista para elucidar a neurose de Kardiner. No centro dela estavam seu pai e sua madrasta. Depois de ouvir o sonho do paciente, Freud dispara: “Há muita luta dentro de você. […] Você se relaciona sexualmente com sua madrasta […]Este era o conflito em questão […] como você ousaria competir com o homem cujo auxílio e apoio você queria obter, a quem temia que fosse humilhar caso você revelasse que o rivalizava para substituí-lo.” A análise vira um jogo fascinante de projeções onde o próprio Freud se torna objeto. “Eu tive medo de meu pai na infância, mas aquele que eu temia agora era o próprio Freud”, escreve Kardiner. A obra proporciona um mergulho maravilhoso e terrível nas sombras do inconsciente do autor.

INDICAÇÃO DE ANGÉLICA SANTA CRUZ
O Colibri, romance do escritor italiano Sandro Veronesi, é uma jogada que começa no meio de campo e vai trançando firulas bonitas de se ver até chegar ao golaço. Na forma, o livro, que venceu o Strega em 2020, o mais prestigioso prêmio literário italiano, é espertíssimo. Os capítulos são blocos narrativos feitos ora de cartas, ora de mensagens de celular, e-mails, conversas telefônicas, ou outros recursos. São tijolos que não são colocados em disposição cronológica e vão jogando o leitor num vai-e-vem habilidoso, em que as datas são o de menos, exatamente como acontece nas memórias das pessoas.
O resultado é uma arquitetura nos trinques para servir a história de Marco Carrera, um oftalmologista capaz de suportar toneladas de dor – alguém que acaba se mantendo de pé por meio dos cuidados com outras pessoas e, em alguns casos, até mesmo pela devoção. O percurso do personagem – um sujeito meio ingênuo, mas de uma capacidade de resistência à toda prova –, já tem seus encantos. A essa boa história, no entanto, somam-se as pensatas sensacionais – ensaios em miniatura – que de repente pulam do texto. Há alguns ótimos momentos para voltar e reler, como a tese de que o final de toda história entre duas pessoas já está escrito nos primeiros momentos – e elas adivinham qual é, mas esquecem nos minutos seguintes, do contrário não poderiam vivê-la. Ou da necessidade de cultivar prazeres em meio ao luto, para tecer um arremedo de vida que vai virando a própria vida. Ou ainda sobre a lógica dos jogos de apostas, baseados num pensamento mágico cujo maior efeito é o desprezo por tudo aquilo de bom que já se tem. Quando a jornada de Carrera se encerra, o autor expõe as estruturas desse prédio, detalhando de onde tirou todas as suas referências. É coisa de mestre.
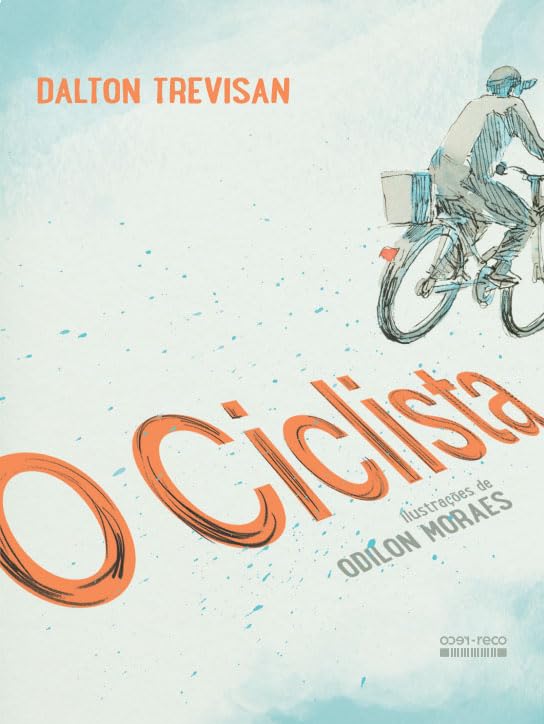
INDICAÇÃO DE ARMANDO ANTENORE
Dalton Trevisan é certamente um dos autores mais obsessivos e minimalistas do mundo. Sua obsessão se manifesta no afã de reescrever frases, orações e períodos ad infinitum, sem nunca atingir a plena satisfação. Já o minimalismo decorre da ânsia de economizar palavras, de dizer muito com praticamente nada. Quais escritores unem ambas as características de maneira tão eficaz e duradoura como o Vampiro de Curitiba? Lembro-me, agora, dos americanos Ernest Hemingway e Raymond Carver. Nenhum dos dois, porém, chegou perto de viver tanto quanto Trevisan, que morreu em 9 de dezembro passado, seis meses antes de completar 100 anos.
Ele lançou Novelas nada exemplares no finzinho da década de 1950. Trata-se do primeiro livro que não renegou (os anteriores caíram no esquecimento). A partir de então, o autor protagonizou uma carreira bastante fértil, que trouxe à luz mais de quarenta títulos. De acordo com as notícias que sopravam da Alameda Doutor Muricy, no Centro curitibano, onde o recluso literato morava, morreu ainda ativo.
O selo infantil Reco-Reco, do Grupo Record, publicou recentemente um livrinho que exemplifica bem o método do escritor. Chama-se O ciclista e apresenta uma história muito simples. São apenas duzentas e poucas palavras, distribuídas por 32 páginas. As ilustrações esfumaçadas de Odilon Moraes e a diagramação repleta de vazios possivelmente despertam o interesse das crianças, mas os adultos também podem apreciar a odisseia do rapaz que desafia o trânsito pesado de uma metrópole enquanto guia uma frágil bicicleta. “Curvado no guidão lá vai ele numa chispa – e a morte na garupa”, anuncia o parágrafo inicial da trama.
O texto nasceu como reportagem em outubro de 1952. Durante os nove meses seguintes, Trevisan o reelaborou e transformou em conto. Depois, ao longo de várias décadas, o cortou mais e mais e mais. Só guardou a ceifadeira quando a narrativa se tornou minúscula. No processo, o personagem principal abdicou de se chamar José e ficou sem nome, deixou de entregar sorvete e trocou o chapéu por um boné. A campainha da bicicleta, que antes gritava fom-fom, acabou ecoando trim-trim. O resultado final, paradoxalmente trágico e lírico, demonstra que a prosa urbana pode, sim, alcançar a força simbólica e a perenidade dos relatos míticos. O livro oferece, ainda, um breve e saboroso ensaio sobre o pequeno conto. Quem o assina é o crítico Augusto Massi, professor de literatura brasileira na USP.
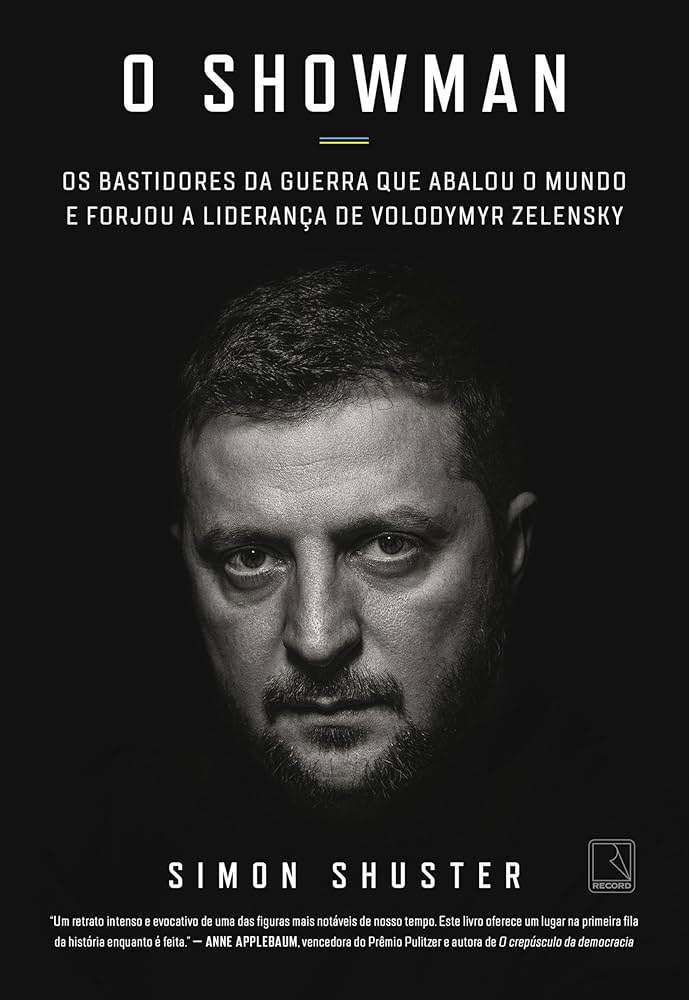
INDICAÇÃO DE CONSUELO DIEGUEZ
O livro O Showman – Os bastidores da guerra que abalou o mundo e forjou a liderança de Volodymyr Zelensky, do jornalista americano Simon Shuster, pode não explicar historicamente as razões do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, prestes a completar três anos. Mas detalha aspectos da personalidade do presidente ucraniano que talvez ajudem a compreender as razões para o enfrentamento ainda não ter acabado pelas vias diplomáticas.
Shuster, da equipe da revista Time, passou meses ao lado de Zelensky, apesar da resistência dos generais do presidente em dar tamanho acesso ao jornalista. O curioso é que, intencionalmente ou não – já que, presume-se, pelo subtítulo, que o autor estaria falando de um herói e não de um vilão – seu protagonista pode ser entendido de duas maneiras. Uma é de que se trata de um comediante transformado num bravo presidente, que liderou um movimento de resistência no seu país contra os russos. Outra – como foi o caso da minha leitura – é de que se trata de uma personalidade narcisista, que, ao invés de cumprir o acordo diplomático com o presidente russo Vladimir Putin, intermediado pela Turquia, para que a Ucrânia se tornasse um país neutro entre Ocidente e Oriente, preferiu ceder ao canto da sereia da Organização do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos. Ao tentar filiar a Ucrânia à organização, Zelensky conduziu seu país a uma guerra que, segundo estimativas de alguns especialistas, já matou mais de 400 mil soldados, milhares de civis, e ameaça o mundo com um conflito nuclear.
O livro oferece algumas pistas, talvez não intencionais, de que, ao invés do herói propalado pelo Ocidente, Zelensky era extremamente despreparado para ocupar a presidência. Ele se elegeu valendo-se do personagem ficcional de um professor de história que interpretava no programa cômico na tevê O servo do povo, de grande sucesso na Ucrânia, que prometia acabar “com tudo que está aí” e fazer tudo novo. A Ucrânia sofria com a corrupção e a desilusão com a classe política, mas o personagem que Zelensky interpretava, além de não apresentar qualquer saída para os problemas que atacava, não era real. A oposição solicitou que o programa que xingava tudo e todos fosse tirado do ar durante a campanha presidencial, já que se tratava de campanha disfarçada, mas a justiça eleitoral do país achou por bem mantê-lo.
O resultado é que seu governo foi um desastre logo de cara. Como passara a vida na ribalta e não no palco da realidade, Zelensky não tinha quadros políticos, mas apenas seus amigos comediantes – que entendiam de comédia, mas não da gestão de um país. Para negociar com os experientes diplomatas russos, Zelensky mandou um amigo, dono de uma empresa de vídeo, que chegou na reunião de camiseta e boné virado para trás. O enviado voltou impressionado com o fato de os diplomatas russos usarem ternos.
Segundo Shuster, o governo de Zelensky era tão ruim que, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a popularidade do presidente era de 20%. O autor afirma que a guerra ajudou a mantê-lo no cargo. Zelensky começou a usar uma camiseta verde-oliva como se fosse um soldado em combate: ganhou centenas delas de presente de uma confecção de camisetas, para fazer propaganda. A camiseta virou moda, enquanto os soldados reais morriam no campo de batalha. A narrativa de Shuster mostra um Zelensky de personalidade infantil, brincando de super-herói, fazendo posts nas mídias sociais e criando situações de risco para o exército para ser filmado por jornalistas, entre outras frivolidades.
Em 2023, Zelensky suspendeu as eleições e se tornou um ditador. Resta, agora, saber como o seu ídolo, Donald Trump, reagirá (segundo o livro, Zelensky ficou decepcionado ao não conseguir selfies com Trump quando o encontrou para discutir a questão da Rússia durante o primeiro mandato do americano). Por essas e por outras, cabe ao leitor de O Showman decidir em qual dos dois Zelensky apostar: na figura notável, como definida pela jornalista americana Anne Applebaum, ou no farsante inscrito nos detalhes de Shuster.

INDICAÇÃO DE TATIANE DE ASSIS
“Fulano foi o primeiro de sua família a entrar na universidade.” Desde a adoção da política de cotas, essa situação tem se tornado mais comum no cotidiano de pessoas que compõem as chamadas minorias no Brasil. Frases desse tipo exaltam o avanço, mas omitem a dificuldade de permanência na academia, tema fundamental do livro De onde eles vêm, o romance mais recente de Jeferson Tenório, autor agraciado com o Prêmio Jabuti de 2021 pelo Avesso da Pele.
Os obstáculos a serem superados pelo garoto não são fáceis de destrinchar. Não é apenas a urgência do sustento que atormenta Joaquim, que é órfão e mora com a tia, com quem divide a tarefa de cuidar de uma avó idosa. O protagonista também tenta decifrar o mundo dos livros, pelo qual se apaixona, tendo inicialmente a orientação do amigo Sinval. Joaquim quer decodificar os maneirismos e códigos sociais das classes média e alta, que frequentam a universidade. Com humor, tipifica quem está acostumado a tratar o outro como categoria.
Mas Joaquim não é um tipo sociológico, é uma pessoa, como qualquer outra, que ama. Para embolar e cutucar as premissas de leitores que esperam um personagem moralmente correto, tem comportamento machista com uma de suas namoradas. Seu destino não cabe numa biografia linear ou exemplar: ele se esforça para continuar na faculdade, não consegue, desiste, trabalha em subempregos e busca fugas variadas. O seu futuro, ao vento pertence. As crises no Brasil e no mundo se sucedem como um eco.
É também preciso destacar o modo divertido que o autor tem de aproximar os leitores de clássicos, como James Joyce, em cenas ousadas. Leia ouvindo música, bebendo cerveja, ou vinho.

INDICAÇÕES DE RAQUEL ZANGRANDI
Irreverente e apimentado para os padrões de comportamento do final do século XIX, o romance de estreia da escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954) entrou recentemente em domínio público. A obra original foi lançada na França em 1900 e assinada sob o pseudônimo do primeiro marido de Colette, “Willy”, Henry Gauthier-Villars, um renomado escritor e editor na época, de quem poucos se lembram hoje. Pela editora Meia Azul, a obra chegou ao Brasil este ano pela primeira vez com o nome correto de sua verdadeira autora.
Primeiro livro de uma tetralogia, Claudine na escola é um romance de formação sobre uma aluna indomável numa escola pública no interior da França, baseado na vida da própria autora. Claudine é órfã de mãe e foi criada pelo pai com algum distanciamento, o que lhe dá autonomia e liberdade para ser quem ela é: contestadora, esperta e sem medo de forçar os limites do ambiente escolar. Em suma, da pá virada. Com essas credenciais, ela se apaixona pela professora de inglês, Aimée, que por sua vez tem um noivo, mas cultiva um romance secreto com a diretora da escola.
Logo no primeiro parágrafo do livro, Claudine diz: “Moro em Montigny, onde nasci. Provavelmente não morrerei no mesmo lugar.” Ou, mais adiante, “Não se pode agradar a todos. Prefiro agradar-me primeiro”, “Farei minha entrada no mundo e cometerei mil gafes”, demonstrando que apesar de tão moça ela já sabe quem é, cheia de ambição e com a bússola apontada para Paris (tema do próximo livro). A história traz uma sucessão de peripécias da jovem no ambiente conservador da escola, com ideias e atitudes de uma alma atormentada por um presente que não a representa, mas que ela consegue viver intensamente.
As aventuras de Claudine são saborosas pela graça e inteligência da personagem e sua afiada obstinação. Ela é uma observadora perspicaz de tudo o que a cerca, e a ambição é sua guia. Há muitas Claudines entre nós – quem nunca teve uma amiga mais ou menos assim? A diferença é que naquele tempo a vida era bem mais dura. Se uma garota assim não passa despercebida hoje, imagine num colégio conservador do século retrasado.
Depois da leitura do primeiro volume, a vontade é de acompanhar Claudine para ver como ela se sai na vida adulta. Agora é torcer para que a editora Meia Azul publique também os outros três livros da série.

“O sentido de ler é o fato de não existir sentido em ler. É prazer.” O prazer da leitura é justamente o que Caetano W. Galindo nos desperta ao percorrer os 99 micro-capítulos de Lia, um caleidoscópio de instantes que formam uma unidade. É um daqueles livros que não se encaixam em nenhum escaninho – e para os leitores mais curiosos, isso já vale uma boa espiada.
É o primeiro romance de Galindo, que, além de escritor, é um dos mais apreciados e demandados tradutores do mercado editorial brasileiro. Lia é um conjunto de instantâneos da vida, com ideias engraçadas, pensamentos profundos, dores e tristezas, e um apanhado de histórias de mulheres aleatórias que se chamam Lia, que podem ser uma só ou muitas, tanto faz. Talvez Lia seja o próprio Galindo – reservado que é, se camuflou no meio das historietas da protagonista, e faz delas sua declaração de princípios. Dá para ler o livro de trás para frente ou pegar do meio para o fim, ler salteado, e assim vai. Lia é como um álbum de retratos de várias mulheres: velha, jovem, bebê, semiviva ou semimorta, estirada numa calçada de Curitiba, ou uma mãe que já partiu e deixa uma casa vazia para o filho recolher “os trecos” e regar as plantas.
“Ler sobre algo, ver uma cena, olhar um quadro é prestar atenção. De verdade. É tirar alguma coisa da esfera do mundo e do fluxo do tempo e realmente olhar/ouvir, o que a gente quase nunca faz na vida real. E quando você dedica atenção de verdade a alguma coisa, quase tudo é bonito e de certa maneira quase tudo se revela cheio de sentidos”, escreve o autor lá pelo meio do livro. Ecoando essa declaração, Lia trata temas profundos sem burocracia e temas banais com o devido respeito. Um bebê vendo pela primeira vez o cubo de gelo mergulhar num copo d’água. Um bolinho com café na cozinha de casa. Um mero instante do passado que nos faz pensar no que vale a pena. Nessa toada, Galindo nos faz olhar com carinho para a nossa própria rotina, essas pequenas belezas do cotidiano, e nos leva a repensá-las com generosidade e leveza.
E já que estamos no fim do ano, surrupio aqui uma ideia do livro: Se na hora da sua morte, te dissessem que você tem direito a mais alguns minutos de vida se – e apenas se – você escolher uma música para ouvir, sendo que a prorrogação da sua vida terá a exata duração dessa música. Um arremate de beleza, “a morte protelada pelo tempo de uma música.” Qual música seria? (A do Galindo é uma linda canção, que eu não conhecia, mas já incluí na minha playlist.)
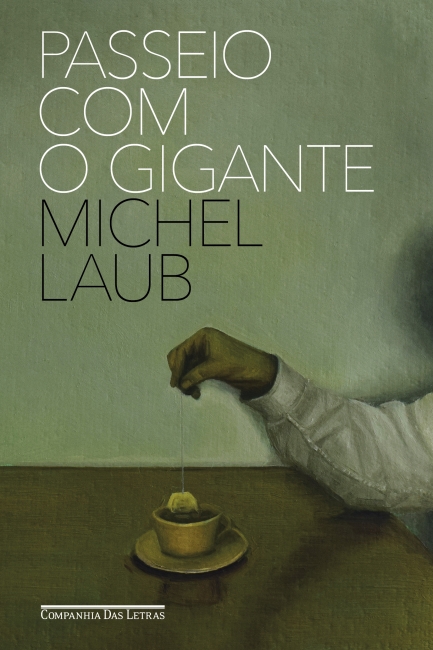
INDICAÇÃO DE DANIEL BERGAMASCO
Um artigo na revista americana Dazed, publicado em julho de 2024, perguntava no título: Por que homens heterossexuais não leem romances? Os motivos são os mais detestáveis, e confesso que senti o golpe. Passei então a priorizar por um tempo livros de ficção, que estavam levando de 7 a 1 nas minhas prioridades.
Lendo Passeio com o gigante , de Michel Laub, tive a sensação de roubar um pouco no jogo. O romance é uma narrativa ficcional bastante inventiva na forma, mas permeada por questões recentes como as eleições presidenciais de 2018, a divisão ideológica do país e a pandemia da Covid, que dão ao livro a temperatura do noticiário.
Em meio a memórias e reflexões, o advogado sionista Davi Rieseman se lembra de dores da própria infância e cita episódios históricos. Por volta de cem anos atrás, em uma época na qual lideranças como o reitor de Harvard consideravam judeus uma raça inferior e doente, floresceu nos Estados Unidos a ideia (importada da Europa) do “judaísmo musculoso”, pela qual a obsessão com a forma física se tornou um modo de combater esses estereótipos racistas. Nesse contexto, surgiram boxeadores judeus campeões de nomes como Joe Choynski e Kid Kaplan, e o maior de todos: Benny Leonard.
É por isso que se chama Benny Seguros a empresa que o advogado assume depois da morte do sogro, um judeu rico e apegado às tradições. Em 2018, pensando no que julgava melhor para a comunidade judaica brasileira (e para os próprios negócios), o herdeiro usa a companhia para apoiar financeiramente o candidato de extrema direita que se saiu vencedor na disputa pelo Palácio do Planalto.
O texto nunca nomeia o político, mas é explícito em suas consequências: chega a pandemia e a mulher do advogado convalesce num hospital enquanto o presidente debocha da falta de ar dos doentes de Covid numa transmissão pela internet. Presente e passado se embaralham no texto, e para o leitor não convém desembaralhá-los: nos borrões do fluxo de pensamento do personagem, a leitura fica mais instigante – e, de alguma maneira, entre arrependimentos e contradições, se torna muito mais clara.

INDICAÇÃO DE LUIGI MAZZA
“Se uma casa tem uma iluminação muito clara até o último canto, ela se torna inabitável. É o mesmo com a alma, iluminá-la até sua sombra mais escura torna as pessoas ‘inabitáveis’. Estou convencido de que a psicanálise – junto com muitos outros erros terríveis da época – tornou o século XX terrível. Considero o século XX um erro em sua totalidade.”
Esse parágrafo, se escrito por outra pessoa, soaria como uma opinião fanfarrona. Vindo de Werner Herzog, é uma declaração sincera. O cineasta alemão cultiva uma visão mística da vida. Em sua autobiografia, Cada um por si e Deus contra todos – memórias, passa a impressão de que se sentiria mais à vontade nos tempos pré-modernos, quando o mundo ainda comportava mistérios. Dois de seus maiores ídolos, ele diz, são Fábio Máximo, um dos líderes do Império Romano, e Aquenatón, faraó que implantou o monoteísmo no antigo Egito. Figuras tão ambiciosas quanto seus protagonistas Aguirre (do filme de 1972, Aguirre, a cólera dos Deuses) e Brian Sweeney Fitzgerald (do filme de 1982, Fitzcarraldo).
Herzog cresceu na Bavária dos anos 1940, devastada pela derrota dos nazistas. Viveu, apesar da pobreza extrema, “uma infância magnífica”. Com pouca ou nenhuma supervisão dos pais, passava os dias em contato com a natureza, da qual guarda um temor reverencial. É um ótimo contador de histórias, ainda que no livro, como nos filmes, seja difícil saber o que é verdade ou não. Herzog diz que trabalhou pescando lulas em Creta, montando touros no México, soldando peças numa metalúrgica na Alemanha. Diz ter aprendido com um soldado japonês que, no crepúsculo, é possível enxergar o trajeto que as balas de fuzil fazem no ar. E outras anedotas fantásticas. Relata também os desastres da gravação de Fitzcarraldo, que incluem um funcionário tendo de amputar um pé com uma motosserra.
Essa zona cinzenta entre fato e ficção é chamada por Herzog de “verdade extática”. O assunto lhe rende há anos uma rixa com documentaristas, e por isso dedicou um capítulo do livro para se explicar. “A verdade não precisa coincidir com os fatos. Do contrário, a lista telefônica de Manhattan seria o livro dos livros”, argumenta o cineasta. “Só a poesia, só a invenção da arte, pode revelar uma camada mais profunda […].” Os críticos dizem que Herzog pode inventar a história que bem entender, contanto que, por razões éticas, não a rotule como documentário. Nem como autobiografia, alguns podem dizer.
Um trecho do livro foi publicado na edição de maio da piauí:
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/mochila-de-chatwin/
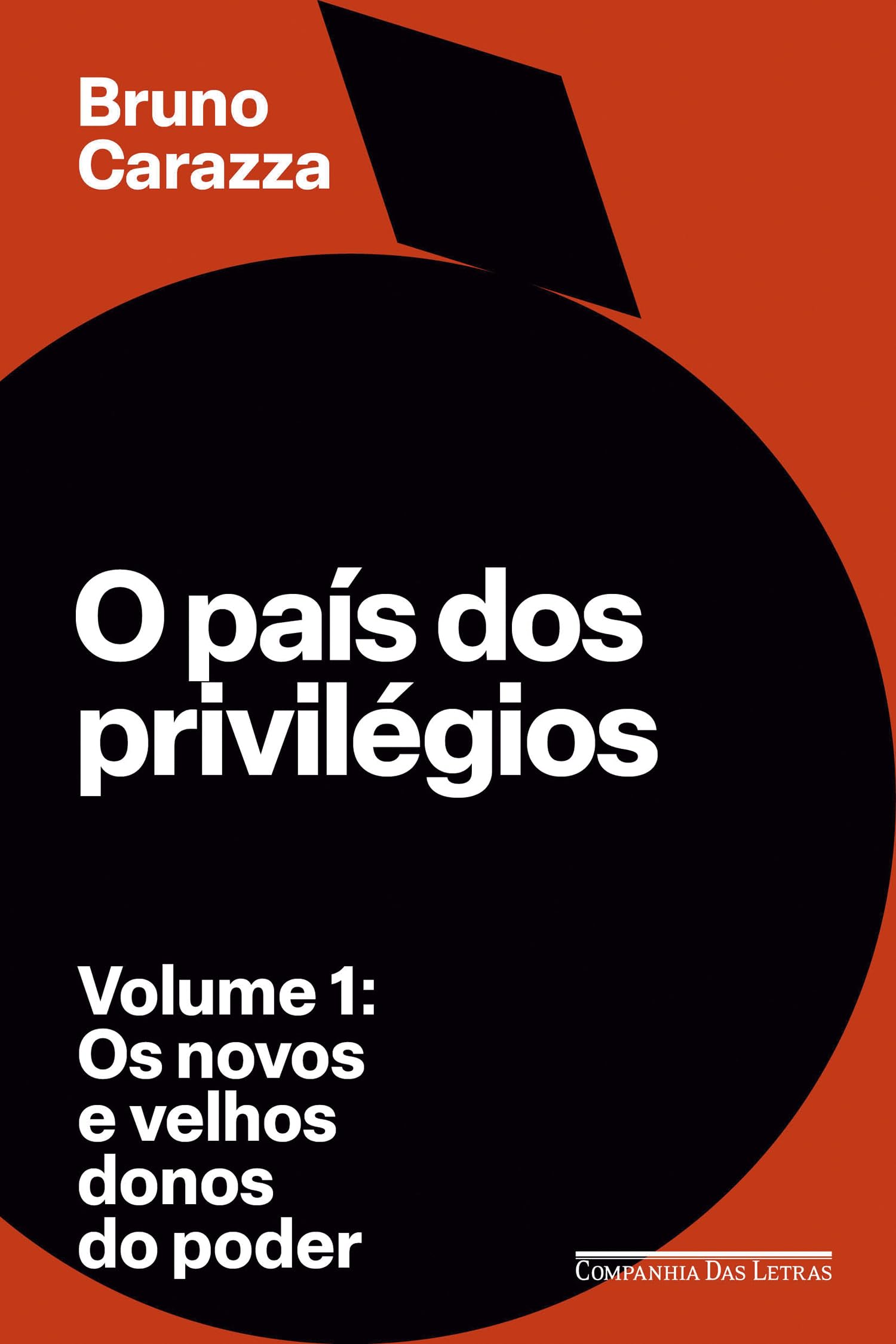
INDICAÇÃO DE ALLAN DE ABREU
Em fevereiro de 2024, um grupo de 46 magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia recebeu mais de 1 milhão de reais de salário mensal em suas contas bancárias. Os contracheques astronômicos, muito acima do teto constitucional de 44 mil reais, se devem a uma sucessão de penduricalhos reunidos na rubrica “vantagens eventuais” – uma definição propositadamente genérica, a esconder privilégios tão arraigados quanto injustificáveis. “O estado brasileiro é uma máquina de criar e distribuir benesses”, define o economista Bruno Carazza no livro O país dos privilégios – Volume 1: Os novos e velhos donos do poder.
Na obra, Carazza se propõe a atualizar o conceito de patrimonialismo criado pelo jurista Raymundo Faoro no livro Os donos do poder: Formação do patronato político brasileiro, publicado em 1958. Se Faoro destrinchou as raízes do “estamento”, os nobres e burocratas que orbitavam em torno da coroa portuguesa (e, mais tarde, do império brasileiro) em busca de privilégios, o economista atualiza o conceito para os tempos atuais, com foco, neste primeiro volume, nas carreiras jurídicas (sobretudo o Judiciário e o Ministério Público), políticas (Congresso) e tributárias (Receita Federal).
Carazza demonstra, com uma riqueza de dados estatísticos e fatos históricos, como o “estamento” brasileiro minou as bases de um Brasil moderno, mais justo e igualitário – aquele país prometido na Constituição de 1988. Por meio de um intenso lobby nos corredores de Brasília, leis foram desvirtuadas e portarias surgiram na calada da noite para eliminar qualquer tipo de prudência orçamentária na distribuição de benesses. O autor demonstra com detalhes como o Judiciário e o Ministério Público mantêm uma corrida frenética em busca da maior quantidade possível de penduricalhos nos próprios salários. Vale tudo: lobby no Congresso, “jabutis” em projetos de lei, canetadas que contrariam julgamentos anteriores do próprio Judiciário.
O resultado é um estado inchado, perdulário, distante das necessidades mais urgentes da população. Em um país no qual tetos viram pisos salariais e alguns rendimentos, como no caso do TJ de Rondônia, chocam pela completa desconexão com a realidade brasileira, a obra de Carazza traz para o debate público um problema-tabu essencial, que ajuda a explicar a desigualdade social pornográfica do Brasil.
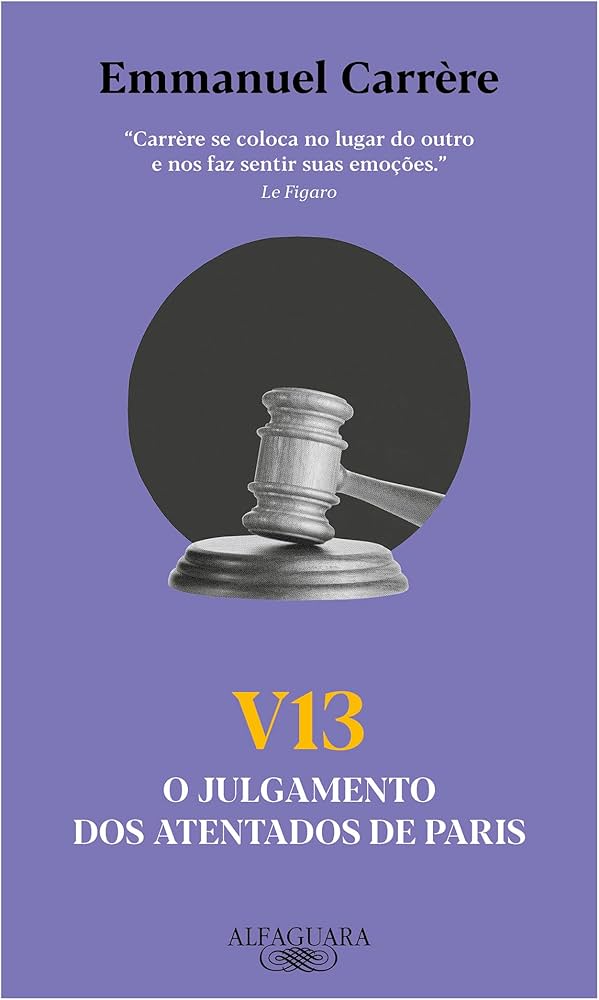
INDICAÇÃO DE BRENO PIRES
Há uma cena em V13 – O Julgamento dos Atentados de Paris, livro do francês Emanuel Carrère, em que uma vítima do ataque terrorista na casa de shows Bataclan pede perdão ao tribunal que julga seus algozes. O rapaz, que tinha 21 anos à época do atentado – que ocorreu em 2015 e incluiu ainda ataques no Stade de France e nas ruas da capital francesa –, saiu sem danos físicos da tragédia, mas por muito tempo não conseguiu tocar a vida, em razão de um trauma que só compreendeu três anos depois, na terapia.
Na noite do atentado, o rapaz empurrou, pisoteou corpos, fez de tudo para sobreviver, enquanto jovens como ele eram varados por metralhadoras. A culpa por ter saído fisicamente ileso o atormentava – por isso o pedido de desculpas ao tribunal. Um pouco antes de decidir pelo gesto inusitado, o mesmo rapaz já tinha se emocionado quando outra vítima que quebrara as costelas naquela noite minimizou sua dor, dizendo que duas costelas quebradas não eram nada. “Pode ter sido você quem passou por cima de mim, pode ter sido outra pessoa, nunca vamos saber, mas se foi você, quero que saiba.”
Essa passagem ocupa apenas uma página e meia das 224 páginas do livro. É uma história dentre tantas trabalhadas pelo autor, que se propôs a assistir todas as sessões do tribunal ao longo de nove meses, no Palácio da Justiça, em Paris. Inicialmente, Carrère escreveu crônicas semanais para a revista Le Nouvel Observateur. Dois terços do livro são feitos destas crônicas, agora ampliadas. Ao longo do trabalho notável que excede a crônica judiciária, Carrère pontua relatos íntimos dos participantes do julgamento para explorar as complexidades do bem e do mal, e as imprecisas fronteiras entre eles. Retrata figuras ímpares – como Nádia, que dispensa o desejo de vingança pela morte da filha Lamia, de 30 anos, ao refletir que, como Lamia, os assassinos foram levados à escola de mãos dadas por suas mães; ou o pai que perdeu o filho assassinado e começa a se corresponder com o pai que perdeu o filho assassino. Juntos, escrevem um livro: “Só nos restam as palavras.”
Há também os catorze réus – entre eles Salah Abdelaslam, o terrorista que desistiu de se matar explodindo uma bomba que carregava. Ele, seus advogados, os advogados das partes civis, os acusadores e o juiz, são apresentados de maneira descritiva, mas também sob a lente mais introspectiva do autor. Em seu exercício de empatia, o autor por vezes parece um camaleão que assume as cores de quem estiver com a palavra – e até brinca com isso. Mas é na forma como revela tensões e joga luz nos silêncios que o livro se eleva.
Tudo se desdobra dentro de um tribunal, dentro de uma capital europeia, dentro de um país de passado imperialista, atingido por radicais islâmicos que clamam vingança ao Ocidente. Poderia ser Bélgica, Alemanha, mesmo Inglaterra, mas estamos falando da França, onde 130 pessoas foram assassinadas com tiros e bombas naquela sexta-feira, 13 de novembro de 2015 (daí a referência do título a V13, de Vendredi, sexta-feira em francês). É um julgamento que poderia ser insuportável para o leitor comum, mas que se torna um acontecimento literário. É uma busca pela verdade dos fatos que não renuncia ao rigor jornalístico, revelando os aspectos mais humanos e subjetivos do processo sem tabus, permitindo ao autor, até surpreendentemente, colocar-se no lugar do perpetrador. Que ironia, um resfolego no ato de julgar.
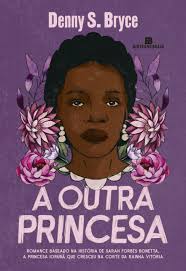
INDICAÇÃO DE LEANDRA SOUZA
Esta foi uma obra literalmente julgada pela capa. Em julho de 2024, enquanto passeava pela feira do livro de São Paulo, vi este romance exposto em um dos diversos estandes. A arte do rosto que figurava na capa me surpreendeu pela expressividade e beleza. E o que poderia ser um arrependimento, por ter comprado um livro de procedência duvidosa, resultou num grande acerto.
O romance era A outra princesa, e o rosto na capa era o de Sarah Forbes Bonetta, protagonista da história, uma princesa iorubá que foi sequestradapela corte inglesa e tutelada pela rainha Vitória. A obra, baseada numa história verdadeira, descreve a trajetória de Sarah desde a infância até a vida adulta, abarcando seu amadurecimento e os percalços que enfrentou: perda parental e de identidade, solidão, abandono forçado de seu território, violência física e psicológica, entre outros aspectos.
É uma obra comovente, e me emocionei diversas vezes ao lê-la. A americana Denny S. Bryce usa o gênero do romance para retratar o processo predatório que os impérios europeus promoveram durante séculos no continente africano, e as repercussões do imperialismo nas sociedades africanas daquele período. Tudo isso pelo olhar de uma mulher negra, que foi vítima da lógica colonialista europeia, que buscava conquistar mais domínio e riqueza em seu território. Sarah passa muito tempo enxergando a coroa inglesa como sua grande salvadora. Mas, ao longo da história, ela se transforma e percebe que o lugar que imaginava ser sua salvação era na verdade o grande causador de todo o sofrimento que a acompanhou durante boa parte da vida.
A conexão entre a ficção e a realidade são o par perfeito para a construção da obra, que em nenhum momento perde o senso crítico agudo ao apontar como eventos do passado até hoje submetem o povo africano a inúmeros conflitos. A história ainda entrega vários aspectos da cultura iorubá, para mostrar que, apesar de Sarah ter sofrido um processo de colonização, a sua essência iorubá-africana não se perdeu. Publicado em 2023, a obra só chegou em solo brasileiro em fevereiro de 2024. Lê-la mantém vivo na memória o protagonismo de pessoas negras ao longo da história.
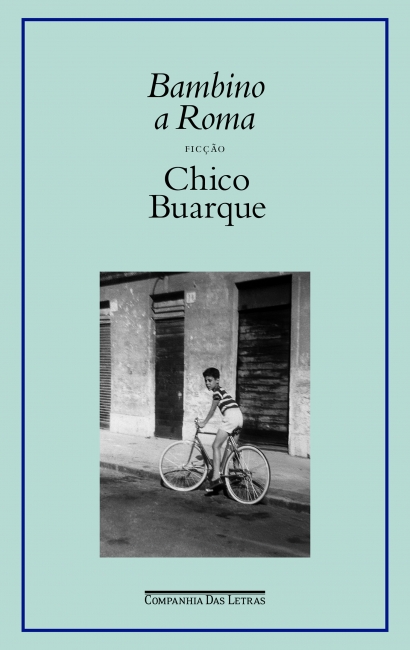
INDICAÇÃO DE PEDRO TAVARES
Meu Refrão (Una Mia Canzone) é uma das faixas do álbum Chico Buarque de Hollanda na Itália, lançado em 1969, que traz algumas das primeiras canções do artista vertidas para o italiano. Naquele ano, Chico estava exilado na Europa devido à radicalização da ditadura militar no Brasil depois do Ato Institucional nº 5, o AI – 5, publicado no final de 1968. A letra conta a jornada de um jovem autor, desde quando brincava de bola na escola até as primeiras lições de início da vida adulta. Na canção, Chico escreve um pouco de si, e ao fazê-lo logo depois de um decreto do governo que cerceara as liberdades individuais, dá aos ouvintes e leitores uma forma de valorizar a liberdade artística.
Nessa perspectiva, o livro Bambino a Roma pode ser visto como a versão literária amadurecida da mensagem embrionariamente presente em Meu Refrão (Una Mia Canzone). Digo isso não só pelo contexto italiano do livro, mas principalmente pela proposta do autor de olhar para as histórias de sua infância a partir de uma perspectiva de quem acaba de completar 80 anos, e, a partir disso, tecer reflexões profundas, críticas repletas de uma saudade nostálgica. Aos 9 anos, Chico foi morar em Roma com sua família, após seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ser convidado para ministrar aulas na Universidade de Roma, de 1953 a 1954. Foi um período curto, mas que marcou a vida do compositor a ponto de ele querer olhar novamente para esse momento mais de setenta anos depois.
Afirmar que a obra é um livro de memórias é um equívoco. O leitor tem diante de si diversas histórias e casos curiosos de sua breve infância romana, é verdade, mas essas lembranças têm uma proposital atmosfera onírica com situações claramente ficcionalizadas, como se produzidas pela imaginação de uma criança pouco preocupada com a veracidade e coerência cronológica dos fatos – aos quais o autor octogenário dá coerência narrativa. Por isso o texto reafirma a potência e o talento ficcional de um escritor consagrado, vencedor do Prêmio Camões, em 2019.
A imagem da capa é o pequeno Chico em sua bicicleta, que ganhou de aniversário na Itália e fez questão de levar ao Brasil. Enquanto ele percorre as ruas de Roma com a bike, somos quase que levados na garupa, pelos labirintos dessa memória ficcionalizada. Chico nos transporta ao dia que dançou “Hi‐Lili, Hi‐Lo”, com a atriz de Hollywood Alida Valli, que era mãe de um colega de escola. E quando se espantou, orgulhoso, ao ver na estante de uma livraria um exemplar de Raízes do Brasil: Alle Radici del Brasile. “É o livro do meu pai!”
Ao final de um dos capítulos, Chico conta que recebeu de presente de sua mãe um diário para registrar suas memórias romanas, ideia que ela própria dera. Mas, por ser um diário muito infantil com capa e desenhos de borboletas, ele o presenteou à sua irmã caçula, que estava na escola maternal. Com isso, largou a mão do registro. “No futuro a imaginação cobriria as lacunas da memória e os acontecimentos reais se revezariam com o que poderia ter acontecido.” Essa é a essência deste romance, que é fluido e apaixonante, como um passeio de bicicleta pelas vias e praças de Roma. No refrão de Una Mia Canzone, Chico pede que quem o ama cante junto com ele. Ler Bambino a Roma é cantar e celebrar um dos maiores artistas do país.
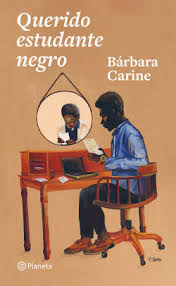
INDICAÇÃO DE JOÃO FELIPE CARVALHO
Era uma tarde de março quando me sentei em frente à psiquiatra para encontrar uma medicação capaz de resolver minha indisposição física e mental. Durante a consulta, ouvi dela a recomendação de um livro “feito para a minha situação de vida”, ou seja, um jornalista, já, mas que ainda não defendera a monografia. O título da obra reverberou. Querido estudante negro. “Eita, é pra mim”, pensei.
O livro da escritora, pesquisadora e ativista Bárbara Carine, lançado em fevereiro de 2024, é escrito em formato de cartas da protagonista para um amigo também negro de melhor condição financeira. A autora escreve o que ela mesma chama de “autobiografia ficcional” para transmitir ao leitor as tensões sociais e raciais enfrentadas pela personagem. Não importa tanto quais das situações Carine realmente vivenciou, e sim que todas as tensões nas cartas são vivenciadas por pessoas negras. As ocorrências vão de piadas no jardim de infância sobre o cabelo da protagonista até o isolamento de uma universitária em meio ao mar branco e elitista de estudantes que não enfrentam a carga de trabalhar, estudar, pagar contas e tentar sobreviver (tarefa difícil, visto que a taxa de mortalidade de homens negros é quatro vezes maior que a de homens brancos).
Com exceção das duas últimas cartas, Carine recorre à simplicidade nas palavras e à sutileza para retratar as situações de um “eu coletivo”. A remetente não precisa de um excesso de detalhes para explicar a razão pela qual um amigo dela no aeroporto é sujeito a uma revista aleatória, ou a falta de representatividade negra no corpo docente das universidades. O motivo já sabemos. O sabor das cartas não amarga, somente, a boca do leitor negro. A psiquiatra que me indicou o livro é branca, e o leitor branco também é convidado a entender o regime de sobrevivência da população negra num país onde a luta para não morrer aumenta a cada dia, sem perspectiva de vitória do povo preto.
A chegada da protagonista ao patamar de mestra e doutora em Ensino de Química, e professora adjunta do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA), não é um final feliz do livro. Para corroborar tal argumento, a própria autora renuncia à vitória individual ainda na apresentação, com o seguinte trecho:
É importante dizer que este não é um livro sobre superação; não há como ser negro em um país tão racista como o nosso e superar a ferida colonial aberta em nós. Engana-se o preto que diz “cheguei lá” e acha que tem uma história de superação para contar e inspirar os outros. Me diga, chegou lá aonde? Será que essa pessoa percebe que se sentou à mesa na sala de jantar da casa-grande enquanto os companheiros, as pessoas que ele mais ama, se alimentam junto aos animais na senzala? Não! Não houve superação; houve incorporação ao sistema que machuca e oprime. A diferença é que agora ele está mais pertinho para ser estudado, vigiado e controlado.
Definitivamente não quero ser o preto na casa-grande enquanto a base de onde vim não desfrutar das pequenas vitórias da luta nossa de cada dia. Essa é apenas uma das várias reflexões proporcionadas pela leitura das cartas de Bárbara Carine.
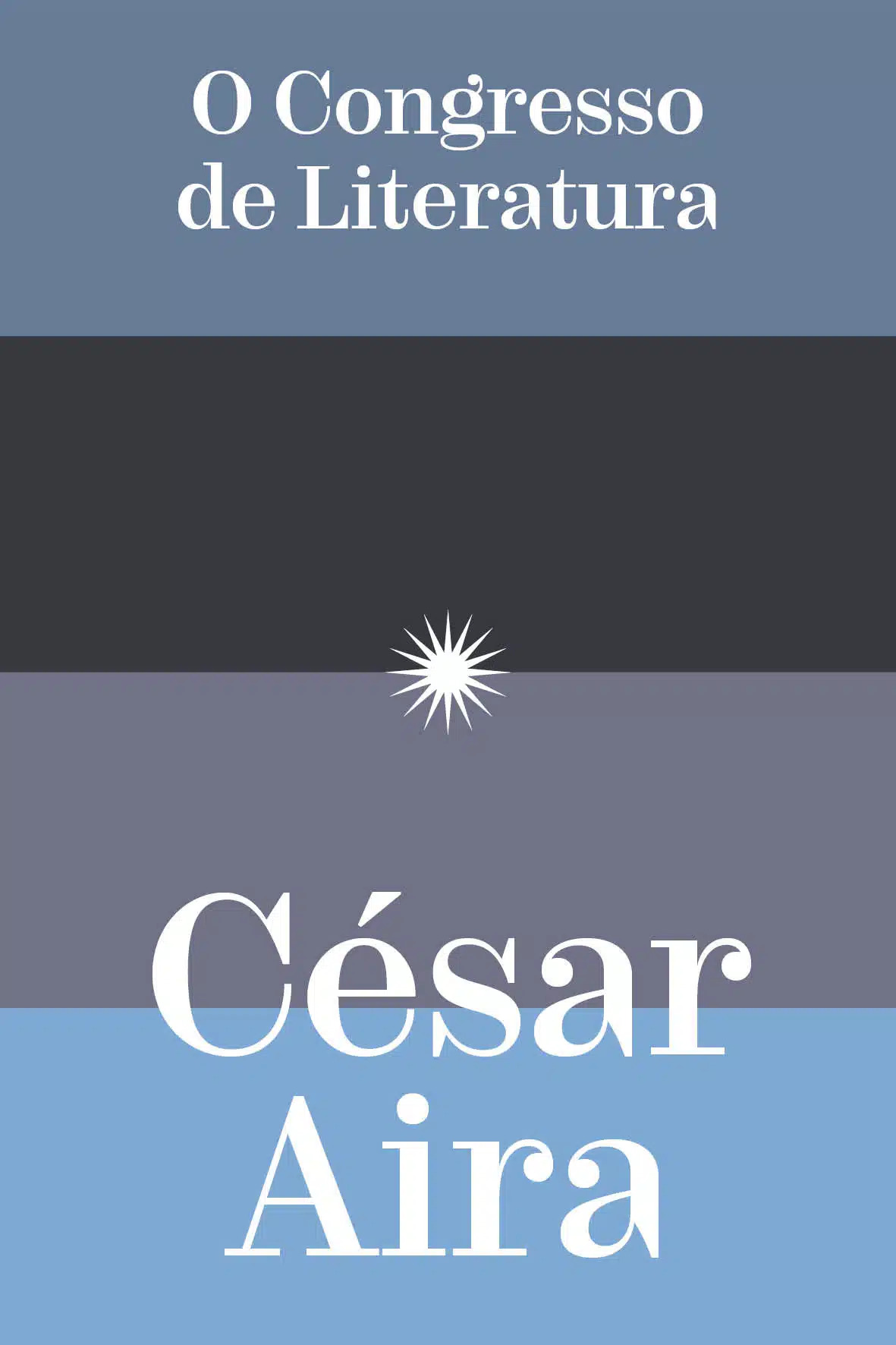
INDICAÇÃO DE ALEJANDRO CHACOFF
Em novembro de 2023, me encontrei com César Aira em Buenos Aires para entrevistá-lo e fazer seu perfil para a piauí (https://piaui.folha.uol.com.br/materia/como-cesar-aira-o-excentrico-das-letras-argentinas-ocupou-o-centro-da-literatura-latino-americana/ ). A obra de Aira, composta de mais de cem livros, é notoriamente extensa, e, na preparação para o encontro, me deparei com alguns livros seus dos quais nunca tinha ouvido falar. O mais peculiar entre eles foi um que não costuma ser contabilizado em sua produção oficial. Se chama Argentina: Las Grandes Estancias.
Lançado em 1995 por Rizzoli New York e Ediciones Brambila, organizado e editado por Tomás de Elia e Juan Pablo Queiroz, o livro discorre sobre a história de 22 propriedades latifundiárias argentinas do século XIX que, até a publicação do livro, permaneciam nas mãos de herdeiros das famílias ruralistas. É uma espécie de livro de mesa de centro, cheio de fotografias de paisagens suntuosas e casarões decorados: um pátio com rede e banquinho iluminados no Sol do crepúsculo; uma sala de estar com lareira e paredes revestidas de pedras e ancestrais europeus; uma cozinha rústica com prataria dourada. As imagens oscilam entre o lírico e o kitsch (uma das fotos mostra Jackie Kennedy de echarpe e óculos escuros, em 1966, montada a cavalo na estancia de San Miguel). Aira assina os textos do livro, abordando os detalhes históricos de cada propriedade. São textos curatoriais relativamente convencionais, mas vez ou outra nos lembramos de quem está escrevendo. Como no caso da descrição de Los Alamos, casarão de propriedade da família Aldao Bombal, localizada ao S ul da província de Mendoza:
O casarão havia sido construído como forte de fronteira em 1830, com paredes grossas de adobe, pátio interno, janelas com barras de ferro forjadas à mão, e um fosso defensivo para protegê-las de invasões indígenas. Ao longo daquele século, a estancia havia resistido a duas invasões, que incluíram sequestros de mulheres e roubo de gado. Segundo a tradição oral, um cacique foi enforcado no pátio principal da casa em represália. Um destes ataques, em 1838, que pegou toda a região, foi registrado em vários desenhos e óleos pelo pintor alemão Johann Moritz Rugendas, na época de passagem pela província.
De início, tinha estranhado a participação de Aira num projeto tão convencional (nenhuma das pessoas que entrevistei parecia ter uma teoria a respeito, e a maioria nem conhecia o livro). Mas ao ler os textos, me dei conta de que a prosa do autor – impessoal, fluida, e leve – era perfeita para um livro desse tipo. Uma das qualidades de Aira é justamente narrar tudo do mesmo jeito: Rugendas é um dos personagens de seu romance Um acontecimento na vida do pintor-viajante, e as alucinações do protagonista na ficção são narradas com a mesma limpidez e graça que ele usa para descrever a história dos casarões.
Toda essa digressão aireana serve para dizer que reencontrar O congresso de literatura, lançado no Brasil neste ano pela Fósforo num box junto a três outros romances seus, foi uma experiência reveladora. A primeira vez que me deparei com o livro – em 2011, numa livraria de Buenos Aires – a premissa de um tradutor que decide arregimentar um exército de clones do escritor mexicano Carlos Fuentes me pareceu pernóstica, mais até pela insistência do vendedor fanático do que pela história em si. Mas, depois de mergulhar na obra de Aira, me dei conta de que a vitalidade do livro reside justamente em sua mistura promíscua entre erudição e deboche, entre metaficção cerebral e cinema B. A acessibilidade e a graça da prosa preparam o leitor para qualquer coisa – Aira tem um poder inimitável de naturalizar eventos incríveis, e de imbuir eventos mundanos de estranheza. Quando um problema no processo de clonagem gera uma tragédia com minhocas azuis gigantes, já estamos convertidos ao desconcerto narrativo tão comum em suas obras. O livro é uma boa porta de entrada para quem nunca leu a obra, ainda que qualquer livro de Aira – até um livro de mesa sobre latifúndios – se beneficie da leitura de outros.
Quando lhe perguntei sobre Argentina: Las Grandes Estancias, naquela entrevista do ano passado, ele me disse que aceitara o convite dos organizadores porque tinha a impressão de que se tratava de um projeto de preservação histórica. Pouco tempo depois, porém, boa parte das propriedades foram vendidas. Contou isso rindo, como se admirasse o pequeno truque imobiliário, o jogo do qual tinha participado.

Repórter da piauí

Repórter da piauí, é apresentador do podcast A Terra é Redonda (Mesmo) e autor dos livros Admirável novo mundo: uma história da ocupação humana nas Américas (Companhia das Letras) e Domingo É Dia de Ciência (Azougue Editorial)

Repórter e editora-assistente de redes sociais da piauí

Repórter da piauí, publicou A Beleza da Vida: A Biografia de Marco Antonio de Biaggi (Abril)

Repórter e coordenadora de checagem da piauí

Repórter da piauí

Repórter da piauí e roteirista de cinema

É jornalista da piauí

Editor da piauí, é autor de Júlia e Coió, Rita Distraída e Sorri, Lia! (Edições SM)

Repórter da piauí, é autora de O Ovo da Serpente – Nova Direita e Bolsonarismo: Seus Bastidores, Personagens e a Chegada ao Poder (Companhia das Letras)

Repórter da piauí, é crítica de artes visuais com especialização pela Unicamp.

Produtora-executiva da piauí.

é editor executivo do site da piauí. Foi repórter e correspondente em Nova York na Folha de S.Paulo, editor digital da Veja e diretor de redação da revista GQ Brasil

Editor do site da piauí

Repórter da piauí, é autor dos livros O Delator, Cocaína: A Rota Caipira e Cabeça Branca (Record)

Repórter da piauí, baseado em Brasília

É estagiária de jornalismo na piauí

É estagiário de jornalismo na piauí

Checador e repórter da piauí

É escritor, ensaísta e editor de literatura da piauí. Autor do romance Apátridas (Companhia das Letras)







